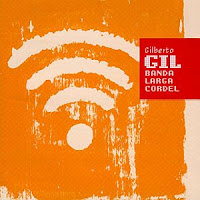"Caraíba: Feiticeiro entre os índios brasileiros. Eram os cantadores profissionais da tribo e iniciavam os cantos religiosos do cerimonial, bem como a cura dos doentes", registra Mário de Andrade no seu Dicionário musical brasileiro (1989, p. 114). Se levarmos em consideração a ideia de que "a música cura", como a cantora Gal Costa disse em entrevista ao programa Viva voz(07/02/2013), e que a cura significa, tal e qual atesta o dicionário, "tratamento contra uma doença; recuperação da saúde; curativo; remédio; solução para algo, regeneração", podemos inferir que a Revolução Caraíba divulgada por Oswald de Andrade já vem acontecendo há tempos.
Neo-sereias, de instinto caraíba, nossos cancionistas desempenham no mundo urbano contemporâneo a função do feiticeiro que cura e inicia o ouvinte. Ao equilibrar na voz um texto carregado de significados e uma melodia exata para figuratizar tal mensagem, o cancionista desperta no ouvinte o desejar de um desejo latente, mas até então não decifrado. O cancionista neo-sereia é decifrador de desejos.
"Só podemos atender ao mundo orecular", anota Oswald no "Manifesto antropófago" (A utopia antropofágica: 2011, p. 69). Ao amalgamar "auricular" - do ouvido - e "oracular" - do oráculo - no neologismo "orecular", Oswald investe no sentido da audição, da escuta como meio de acesso às sabedorias oferecidas pela gaia ciência. O oráculo fala antropofagicamente pela orelha, esta é o meio e a mensagem. É assim que "O espírito recusa-se a conceber o espírito sem o corpo" (idem, p. 69). Pensamos pelo ouvido, daí que "Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago". (idem, p. 67).
É o instinto caraíba que promove a transformação do patriarcado em matriarcado, do tabu - proibições às tradições orais tidas como menores - em totem, em guias de iluminação: consagração do corpo sobre o intelecto - "Nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós (...) A magia e a vida (...) Contra as sublimações antagônicas. Trazidas nas caravelas" (idem, p. 69-71).
É na canção popular, espaço fértil para o canto das várias questões do Humano, feita para ninar - no mais maternal que este termo contem - o desejo do ouvinte, que reconhecemos a manifestação dos instintos, da liberdade dos prazeres vitais. Dito de outro modo: "Transformação permanente do tabu em totem" no momento em que o ouvinte se resolve durante a escuta de uma frase cancional. Cantar é afirmar-se. Ser cantado também.
Essa transformação utópica, renunciando a lógica e a metafísica patriarcais, dá ânimo para que o indivíduo sobreviva na civilização. Foi assim nas aldeias dizimadas, nas senzalas, nos porões dos navios negreiros "ouvindo o batuque das ondas / Compasso de um coração de pássaro / No fundo do cativeiro / É o semba do mundo calunga / Batendo samba em meu peito / Kawo Kabiecile Kawo / Okê arô oke (...) O Batuque das ondas / Nas noites mais longas / Me ensinou a cantar", como canta o sujeito de "Yá Yá Massemba" na voz de Maria Bethânia. Cantar é resistir.
Para Oswald esta revolução se dá quando sobrepomos o selvagem ao civilizado; substituímos o verbo "to be" pelo substantivo "tupi"; e transformarmos os tabus da cultura escrita em totens de uma cultura primitiva, sem recalques, livre das neuroses que fazem o sujeito cantar "Neguinho quer justiça e harmonia para se possível todo mundo / Mas a neurose de neguinho vem e estraga tudo", em "Neguinho" na voz de Gal Costa.
Trata-se de transvalorizar a cultura do conquistador, em nome da antropofagia. "É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas o caraíba não precisava. Porque tinha Guaraci", anota Oswald (idem, p. 72). Ou seja, a valorização da mãe já existente e bastante, do matriarcado sobre o patriarcado. "Se Deus é a consciênda do Universo Incriado, Guaraci é a mãe dos viventes", Oswald (p. 71).
No Brasil, Guaraci tem uma parceira: Iemanjá, com quem divide a maternidade dos viventes, dos que não separam o espírito do corpo. Iemanjá "é o orixá dos Egbá, uma nação iorubá estabelecida outrora na região entre Ifé e Ibadan, onde existe ainda o rio Yemoja. As guerras entre nações iorubás levaram os Egbá a emigrar na direção oeste, para Abeokutá, no início do século XIX. Evidentemente, não lhes foi possível levar o rio, mas, em contrapartida, transportaram consigo os objetos sagrados, suportes de axé da divindade.", anota Pierre Verger em Orixás (1981, p. 190).
Apesar de complexa, não é difícil imaginar a transplantação de Iemanjá para o Brasil, onde se tornou a mãe de todos os orixás e cujas homenagens - vestir-se de branco e derramar bebida para o orixá - se disseminou pelas várias religiões, e pelos não religiosos. "Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada", diria Oswald no "Manifesto antropófago" (idem, p. 73).
Foi também movido pelo instinto caraíba que Antonio Risério transcriou alguns orikis para o livro Oriki orixá (1996). Amparado por textos teórico-ensaísticos, Risério oferece ao público brasileiro tão íntimo afetivamente à língua iorubana uma oportunidade rara e fundamental de contato com este gênero da linguagem oral.
"O oriki-nome é um epíteto. O oriki-poema é, basicamente, um conjunto de epítetos". (RISÉRIO: 1996, p. 40). Vocais, "orikis são emitidos para ninar crianças, receber visitas, celebrar deuses; ressoam, também, em batizados, noivados e funerais; comparecem, ainda, em cumprimentos palacianos, batalhas e festivais" (idem, p. 41). "Em meio a esses diversos tipos de oriki, destacam-se, sem dúvida, os orikis de orixá, que são figurações concentradas (e não raro enigmáticas) dos deuses do panteão nagô-iorubana" (idem, p. 41).
Risério chama atenção ainda para o fato que ao emitir um oriki o emissor é movido e tomado por uma "densidade energética", o poder da palavra vocalizada é posto em circulação cheio de "respeito e receio". Não há disposição rígida de métrica ou linearidade no oriki, mas o padrão orgânico do desejo de sagrar o encontro entre emissor e orixá. Portanto, não há enredo e/ou narrativa lógica, mas a justaposição paralelística anafórica de escolhas afetivas de epítetos. "O que vemos no oriki é justamente isso: o giro hiperbólico da palavra - vale dizer, uma retórica do exagero no plano referencial do discurso. (...) Da imagem à metáfora, o oriki aparece então como uma prática poética classificável, em termos poundianos, como fanopeia - 'a casting of images upon the visual imagination'." (idem, p. 45).
Da tradição oral, emitido para curar o emissor, o oriki é transmitido entre gerações através de reiterações de unidades estruturais a fim de manter aceso o frevo-axé. É assim que, mesmo mantendo tais estruturas nucleares, os orikis vão se adaptando a contextos e necessidades por meio da absorção intertextual movida pelo afeto do emissor. Obviamente, a categoria autor está suspensa, ou melhor, posta no coletivo, na rotatividade do domínio público. "Oriki: ideograma, objeto sígnico construído via sintaxe de montagem, assemblage verbal fundada no princípio da parataxe. Oriki: fanomelopeia intertextual", conclui Risério (idem, p. 54).
Entre os orikis transcriados por Antonio Risério está o "Oriki de Iemanjá": "Iemanjá que se estende na amplidão / Aiabá que vive na água funda / Faz a mata virar estrada / Bebe cachaça na cabaça / Permanece plena em presença do rei. / Iemanjá se revira quando vem a ventania / Gira e rodopia em volta da vila. / Iemanjá descontente destrói pontes. / Come na casa, come no rio. / Mãe senhora do seio que chora. / Pêlo espesso na buceta / Buceta seca no sono / Como inhame ressequido. / Mar, dono do mundo, que sara qualquer pessoa. / Velha dona do mar. / Fêmea-flauta acorda em acordes na casa do rei. / Descansa qualquer um em qualquer terra. / Cá na terra, cala — à flor d’água, fala."
Como não reconhecer neste oriki estruturas que estão no nosso consciente coletivo? E é captando tais sensações que o grupo Axial (Axial, 2004) transcria verbivocalmente o oriki, recoloca-o na voz. Com a sonoridade autêntica que é peculiar ao grupo formado por Sandra Ximenez (voz e teclado), Felipe Julián (baixo e computadores), Leonardo Muniz Corrêa (saxofones e clarinete) e Yvo Ursini (guitarra e eletrônicos), o Axial religa a prática religiosa ao círculo comunitário da canção mediatizada.
O grupo Axial amplia no arranjo melódico o clima religioso do oriki, através de uma ambiência sagrada orgânica e sintetizada. Claro que não falamos aqui de religião, mas de vida, posto que, assim como acreditamos tenha sido na Grécia arcaica, a vida iorubana não se distingui da vivência religiosa, mística. "Movendo-se num universo religioso, os africanos possuem múltiplos templos e uma conduta religiosa multifária. O próprio iniciado na esfera do sagrado é, ele mesmo, um templo vivo do divino. (...) A natureza não é vazia. Seus objetos e fenômenos estão carregados de significância religiosa. De vibrações especiais", anota Risério (idem, p. 61).
Importa destacar que o grupo não vocaliza o oriki completo tal e qual proposto por Risério. O grupo investe no equilíbrio entre a palavra cantada e a palavra falada através do amor materno, do não sensual da Iemanjá africana de grande força sexual. Deixa de fora trechos como "Aiabá que vive na água funda / Faz a mata virar estrada / Bebe cachaça na cabaça / (...) / Pêlo espesso na buceta / Buceta seca no sono / Como inhame ressequido". E acrescenta novos epítetos: "(Cada tua filha, uma ilha / Pétala n’água salgada / Lágrima cristalizada.)". Ou seja, a ênfase é mesmo na relação mãe-filha, ou melhor, na cura promovida pelo mar, domínio da mãe, na filha "pétala n'água salgada". Deste modo, se a mãe tem seios fartos de onde jorram águas (salgadas) de cura, a filha é a "lágrima [água salgada] cristalizada".
O que temos, portanto, é um novo oriki, ligado àquele, mas renovado, adaptado, transcriado, recompondo aquilo que Risério identifica no âmbito iorubá tradicional: "uma rotatividade de unidades verbais numa textualidade descentrada" (p. 53). E assim, "muda o mundo, mudam os deuses, mudam os textos que tematizam/condensam as personalidades e peripécias das personagens extra-humanas, mudam as vias de circulação textual" (p. 171). Do mesmo modo que a revolução caraíba vai se disseminando ciclicamente, perenemente na cultura, através da vocalização sirênica dos cancionistas. E é quando estes se transmutam em feiticeiros promotores da cura do ouvinte que surge a neo-sereia.
***
Oriki de Iemanjá
(Sandra Ximenez / Antônio Risério)
Mar, dono do mundo, que sara qualquer pessoa.
Velha dona do mar.
Fêmea-flauta acorda em acordes na casa do rei.
Descansa qualquer um em qualquer terra.
Cá na terra, cala – à flor d’água, fala.
(Cada tua filha, uma ilha
Pétala n’água salgada
Lágrima cristalizada.)
(Sandra Ximenez / Antônio Risério)
Mar, dono do mundo, que sara qualquer pessoa.
Velha dona do mar.
Fêmea-flauta acorda em acordes na casa do rei.
Descansa qualquer um em qualquer terra.
Cá na terra, cala – à flor d’água, fala.
(Cada tua filha, uma ilha
Pétala n’água salgada
Lágrima cristalizada.)